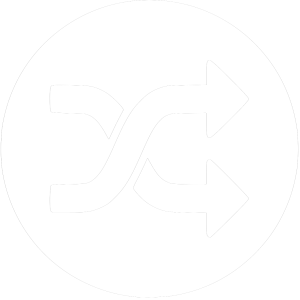Por Marcelo de Elias, professor especialista em Cultura, Mudanças e Liderança. Linkedin Top Voice.
Como especialista em mudança e desenvolvimento de cultura organizacional, sou frequentemente chamado para apoiar empresas que desejam fortalecer a cultura de segurança entre seus colaboradores.
Em uma dessas oportunidades, fui convidado por uma indústria de grande porte que, embora tivesse sistemas robustos, treinamentos periódicos e normas bem estruturadas, ainda enfrentava comportamentos inseguros, subnotificações e uma preocupante sensação de “apatia silenciosa” entre as equipes.
Durante uma das visitas à planta, um colaborador me disse algo que nunca esqueci:
“A gente sabe que a segurança é importante, mas, no fim das contas, o que realmente conta aqui é bater a meta.”
Aquela frase, simples e direta, expôs um ponto crucial: a cultura real da empresa — aquela que se vive no chão de fábrica — não estava alinhada com o discurso oficial. E é justamente nesse desalinhamento entre o que se diz e o que se pratica que mora o maior desafio das organizações.
A partir dessa experiência, e de muitas outras semelhantes, compreendi que promover uma cultura de segurança vai muito além de normativas e treinamentos técnicos. Envolve entender profundamente o estágio atual da cultura, diagnosticar crenças e comportamentos, e conduzir a organização em uma jornada de evolução coletiva.
A cultura de segurança é o alicerce que sustenta práticas e comportamentos seguros dentro de uma organização.
Trata-se de um conjunto de valores, crenças, percepções e atitudes compartilhadas que determinam o compromisso com a segurança em todos os níveis da empresa, desde a alta liderança até os colaboradores operacionais.
Uma cultura de segurança forte não se resume às regras e normas. Ela está enraizada na forma como as pessoas pensam e agem quando se trata de prevenção de acidentes, proteção da vida e integridade física no ambiente de trabalho.
Sabemos que as empresas que cultivam uma cultura de segurança madura reduzem acidentes e incidentes e promovem ambientes mais produtivos e sustentáveis. No entanto, essa cultura não nasce espontaneamente: é necessário diagnóstico preciso, planejamento e ações consistentes para desenvolvê-la e sustentá-la.
Diagnóstico da Cultura de Segurança
Antes de desenvolver a cultura de segurança, é essencial compreendê-la em profundidade. Isso significa identificar em que estágio a organização se encontra e quais comportamentos, atitudes e estruturas sustentam (ou enfraquecem) a segurança no dia a dia.
Para diagnosticar o estágio em que sua organização se encontra, é recomendável utilizar instrumentos como:
- Entrevistas estruturadas com líderes e colaboradores.
- Observações comportamentais no campo (safety walks).
- Pesquisas de clima de segurança.
- Grupos focais por área.
- Mapeamento dos tipos de incidentes e sua recorrência.
- Avaliações comparativas por setor ou unidade.
A partir desse diagnóstico, é possível estabelecer planos de transição de um estágio cultural para outro, com metas realistas e ações alinhadas ao grau de maturidade atual.
Para isso, várias metodologias de avaliação de maturidade da cultura de segurança têm sido aplicadas ao longo dos anos, destacando-se dois modelos amplamente utilizados: a Curva de Bradley, da DuPont, e o modelo Hearts and Minds, da Shell E&P.
Curva de Bradley (DuPont):
A Curva de Bradley é um modelo de maturidade cultural desenvolvido pela DuPont Sustainable Solutions, com base em décadas de observação prática em ambientes industriais e organizacionais ao redor do mundo. A curva descreve quatro estágios de maturidade cultural, refletindo a evolução das atitudes, comportamentos e responsabilidades relacionados à segurança dentro de uma organização.
O grande mérito da Curva de Bradley é apresentar a cultura de segurança como um processo evolutivo e coletivo, em que o foco vai gradualmente migrando de regras externas e pressão hierárquica para uma responsabilidade compartilhada, baseada em valores internos e em cuidado genuíno com o outro.
Visualmente, a curva tem o formato de uma parábola ascendente: conforme a cultura de segurança evolui, o número de acidentes e incidentes reduz drasticamente, ao mesmo tempo em que o engajamento comportamental aumenta.
A curva é dividida em quatro estágios:
- Reativo
- Dependente
- Independente
- Interdependente
Estágio Reativo – “Instintos Naturais”
No estágio Reativo da Curva de Bradley, a segurança é geralmente percebida como uma questão de sorte ou destino. A mentalidade predominante entre os colaboradores é a de que “acidentes acontecem” e que “sempre foi assim”, o que reflete uma visão fatalista sobre os riscos no ambiente de trabalho.
Os indivíduos não se sentem responsáveis pela própria segurança, tampouco pela dos colegas, e a responsabilidade pelos incidentes é frequentemente atribuída a fatores externos, como o ambiente físico, as condições operacionais, a empresa ou até mesmo ao “azar”.
A liderança costuma demonstrar baixo envolvimento com as questões de segurança e quase não há cobrança ou incentivo para atitudes preventivas. Quando ocorrem incidentes, estes são tratados de forma pontual, sem a devida análise das causas ou implementação de ações corretivas estruturadas. Não há um aprendizado real a partir das falhas, o que perpetua comportamentos de risco.
Esse estágio é considerado o mais perigoso da curva, pois muitas organizações ficam estagnadas nesse patamar por longos períodos, imobilizadas por uma combinação de negligência, cultura passiva e liderança descomprometida. Como consequência, os índices de acidentes permanecem elevados e há grande dificuldade para implantar melhorias sustentáveis.
A cultura que se estabelece é pautada na culpabilização individual ou na negação do risco, impedindo qualquer avanço significativo em direção a uma cultura de segurança mais madura.
As frases típicas que refletem esse estágio incluem: “Sempre fizemos assim e nunca aconteceu nada.” “Não adianta, acidentes vão acontecer mesmo.” “Foi azar…”
Estágio Dependente – “Supervisão e Regras”
No estágio Dependente, as organizações começam a estruturar sua abordagem de segurança por meio de normas, procedimentos e sistemas de controle.
Aqui, os colaboradores já reconhecem a importância da segurança, mas ainda a enxergam como uma responsabilidade alheia, algo que deve ser gerenciado por superiores, técnicos de segurança ou outras figuras de autoridade. A principal motivação para o comportamento seguro está na obediência às regras impostas por outros, geralmente por medo de punição ou cobrança.
Nesse ambiente, a segurança é entendida como uma questão de conformidade. Acredita-se que, se todos seguissem as regras, os acidentes seriam evitados. A supervisão exerce um papel central: líderes atuam como fiscalizadores e o cumprimento das normas depende fortemente da presença e vigilância da gestão. Há avanços significativos na redução de incidentes em comparação ao estágio anterior, mas os comportamentos seguros ainda são reativos e condicionados, e não sustentados por uma consciência interna.
Embora esse estágio represente uma evolução, a cultura ainda é frágil. Na ausência de fiscalização, é comum que as práticas seguras sejam negligenciadas. A mudança cultural começa a se desenhar, mas ainda não há protagonismo dos colaboradores.
As frases que simbolizam essa fase incluem: “Siga o procedimento e tudo vai dar certo.” “Se todos fizessem sua parte, não teríamos acidentes.” “A culpa é de quem não seguiu a norma.”
Estágio Independente – “Responsabilidade Individual”
O estágio Independente marca um ponto de virada importante na cultura de segurança. Aqui, os colaboradores passam a assumir responsabilidade pessoal por sua segurança e reconhecem que suas próprias atitudes fazem diferença no resultado coletivo.
A motivação para agir com segurança já não depende de cobrança externa: ela vem de dentro. O uso adequado de EPIs, a análise de riscos antes das tarefas e a adesão aos procedimentos se tornam hábitos autônomos, baseados em valores pessoais e na percepção genuína de risco.
A principal transformação nesse estágio está na consciência individual: os trabalhadores entendem que a segurança é uma escolha contínua e que é possível prevenir incidentes por meio de ações conscientes e responsáveis. Ao internalizar esse valor, os comportamentos seguros tornam-se consistentes mesmo sem supervisão direta.
A liderança assume um papel de apoio e inspiração, orientando e fortalecendo a confiança dos colaboradores. Há também o início de uma postura crítica em relação às condições do ambiente de trabalho, e os próprios trabalhadores passam a sinalizar falhas ou oportunidades de melhoria.
Esse estágio aprofunda a cultura de segurança de forma significativa, abrindo caminho para a construção de um ambiente onde todos se sentem parte do processo.
As frases que expressam essa mentalidade incluem: “Eu não faço isso porque sei que é perigoso.” “Eu uso EPIs mesmo que ninguém esteja me observando.” “Segurança começa por mim.”
Estágio Interdependente – “Responsabilidade Coletiva”
No estágio mais avançado da Curva de Bradley, chamado Interdependente, a segurança passa a ser vivida como um valor coletivo e compartilhado.
Os colaboradores não se preocupam apenas com a própria integridade, mas também com a segurança dos colegas. Existe um senso genuíno de responsabilidade mútua, e os times operam com alto grau de confiança, empatia e colaboração. As pessoas se sentem à vontade para abordar comportamentos de risco, dar feedback construtivo e discutir abertamente sobre segurança, sem medo de retaliação ou julgamento.
Essa cultura de cuidado mútuo é fortalecida por uma liderança que atua como facilitadora do diálogo e promotora de comportamentos saudáveis. Nesse ambiente, não se aceitam padrões baixos de segurança, e a busca por melhoria contínua é natural. O aprendizado organizacional é constante, baseado na análise de quase-acidentes, na escuta ativa dos colaboradores e na adaptação ágil de práticas seguras.
A principal marca deste estágio é o reconhecimento de que a excelência em segurança só é possível com envolvimento coletivo. A cultura é autorregulada, resiliente e sustentada por valores sólidos. É nesse estágio que as organizações conseguem reduzir os índices de lesões a níveis próximos de zero, de forma sustentável e com baixo retrabalho cultural.
As frases que refletem essa mentalidade madura incluem: “Eu não deixaria meu colega fazer algo inseguro, porque me importo.” “A gente se protege mutuamente.” “Aqui, segurança é valor real.”
Modelo Hearts and Minds (Shell E&P)
O modelo Hearts and Minds, criado pela Shell E&P e amplamente difundido entre empresas de alto risco operacional, é uma das metodologias mais robustas para avaliar e desenvolver a cultura de segurança organizacional.
Diferente de abordagens puramente normativas ou processuais, esse modelo foca no comportamento humano e nas crenças e atitudes que sustentam a forma como as pessoas se relacionam com a segurança no trabalho. O nome do modelo já revela sua essência: é preciso conquistar tanto o coração quanto a mente das pessoas para alcançar um ambiente realmente seguro.
A jornada da cultura de segurança, segundo o modelo Hearts and Minds, pode ser compreendida como uma escalada por cinco níveis de maturidade cultural, cada um deles refletindo uma forma distinta de pensar, agir e se posicionar frente ao risco.
A seguir, explicamos em profundidade cada um desses estágios, evidenciando como eles se manifestam nas organizações e quais os desafios associados à sua superação.
Cultura Patológica
No estágio mais básico da cultura de segurança, chamado de patológico, a organização demonstra desprezo sistemático pelas práticas de segurança. Nesse nível, a segurança é vista como um fardo, um custo indesejável, ou até mesmo uma interferência nas metas de produtividade.
A mentalidade predominante é de negação ou minimização dos riscos. Acidentes e incidentes são tratados com descaso ou considerados inevitáveis. A organização enxerga as normas como meras exigências regulatórias, muitas vezes burladas ou ignoradas, e os gestores tendem a demonstrar irritação quando são cobrados sobre conformidade legal ou relatórios de não conformidade.
A liderança é, nesse estágio, reativa ou ausente, e os funcionários operam em um clima de medo, desinformação e desconfiança. A culpa por acidentes é quase sempre atribuída aos próprios trabalhadores, o que gera silêncio, subnotificação e encobrimento de falhas. Essa cultura cria um ambiente organizacional frágil, onde os riscos não são controlados de maneira sistemática, e onde a segurança é praticamente invisível nas decisões estratégicas.
Cultura Reativa
No segundo estágio, chamado de reativo, a organização começa a reconhecer a importância da segurança, mas só age depois que algo dá errado. As respostas às falhas são emocionais e desorganizadas, geralmente impulsionadas por pressão externa, como a intervenção de órgãos reguladores, acidentes de grande repercussão ou reclamações de clientes. Nesse cenário, existe uma preocupação com a imagem da empresa, mais do que com a integridade dos trabalhadores ou com a melhoria sistêmica.
Apesar de haver uma intenção inicial de organizar processos, a estrutura ainda é frágil. As lideranças demonstram certa boa vontade, mas continuam buscando culpados em vez de causas. Os funcionários seguem procedimentos apenas por medo de sanções, e o ambiente continua marcado por desconfiança e distanciamento.
A cultura reativa gera um movimento superficial: há ações visíveis, como campanhas ou treinamentos pontuais, mas sem enraizamento nos valores organizacionais. O aprendizado ainda é raro, e a segurança continua sendo vista como um problema a ser contido, e não como uma oportunidade de evolução.
Cultura Calculativa
O estágio calculativo marca uma virada importante. A empresa passa a tratar a segurança com mais seriedade, adotando sistemas de gestão estruturados, procedimentos formalizados e um forte acompanhamento por indicadores.
A organização tenta “gerenciar a segurança” da mesma forma que gerencia custos, cronogramas ou produtividade. Nesse nível, surgem auditorias, checklists, painéis de indicadores e metas de desempenho. O foco está nos dados, nas metas e nos relatórios. Tudo é mensurado, controlado e acompanhado.
Embora haja avanços importantes na redução de riscos físicos e melhoria de processos, a cultura ainda é muito técnica e pouco humana. A ênfase excessiva em números pode gerar um distanciamento entre os indicadores e a realidade do chão de fábrica.
As pessoas podem sentir que a segurança virou um sistema de controle ou punição, e não um valor legítimo. Os comportamentos desejados passam a ser praticados muitas vezes por obrigação, e não por convicção. Em algumas situações, a cultura calculativa corre o risco de fomentar a manipulação de dados ou a ocultação de falhas, apenas para alcançar metas ou evitar punições.
Esse estágio é comum em organizações com alto grau de exigência regulatória, que conseguiram organizar seus sistemas de segurança, mas que ainda não despertaram o engajamento emocional dos colaboradores. A liderança atua, mas ainda foca mais na gestão da conformidade do que no desenvolvimento de uma cultura consciente.
Cultura Proativa
A cultura proativa representa um salto qualitativo. Neste nível, a organização começa a antecipar os problemas antes que eles ocorram. A segurança passa a ser percebida como uma responsabilidade compartilhada, e o foco se desloca da conformidade para a melhoria contínua.
Os líderes atuam como facilitadores e mentores, e os colaboradores participam ativamente da identificação de riscos, da análise de incidentes e da construção de soluções. A comunicação é fluida, os canais de denúncia são confiáveis, e há uma escuta genuína das preocupações dos trabalhadores.
Neste estágio, há confiança organizacional, abertura ao diálogo e aprendizagem com os erros. O erro deixa de ser um tabu e passa a ser visto como uma oportunidade de evolução. As pessoas entendem que podem agir, sugerir, intervir. As iniciativas de segurança ganham legitimidade porque se conectam com a realidade e com os valores das equipes. Há também um movimento voluntário de autorregulação de comportamentos inseguros, o que demonstra que a segurança começa a ser incorporada como um princípio.
A cultura proativa não depende mais apenas de regras, mas de valores. E é esse nível de consciência que prepara o terreno para o estágio mais avançado da maturidade organizacional.
Cultura Generativa
No estágio generativo, a segurança é completamente integrada à identidade da organização. Trata-se de um nível de maturidade onde todos acreditam que a segurança é parte essencial de quem eles são, e não apenas do que fazem.
As decisões estratégicas consideram a segurança como fator de valor e sustentabilidade, e não apenas como uma obrigação operacional. A cultura geradora é inovadora, resiliente e adaptativa. Ela aprende com experiências internas e externas, promove experimentações seguras, e busca constantemente novas formas de proteger as pessoas.
As equipes operam com autonomia, mas dentro de princípios firmes. Existe uma verdadeira cultura de cuidado coletivo. Os trabalhadores se sentem empoderados para agir quando percebem riscos, mesmo que isso signifique parar uma operação, replanejar uma tarefa ou confrontar um colega. Não há medo de falar. Não há hierarquia de ideias quando se trata de proteger a vida. Há, sim, um compromisso profundo com o outro, com o bem-estar das pessoas, com a preservação da reputação da organização e com o legado que se deseja deixar.
Neste estágio, a segurança é um valor inegociável e autorregulado, que se mantém vivo mesmo em ambientes de alta pressão, mudanças ou crises.
A cultura generativa transforma a organização em um organismo vivo de aprendizado, onde segurança e excelência andam juntas, impulsionando o desempenho, a confiança e a integridade coletiva.
Como Desenvolver e Fortalecer a Cultura de Segurança
A construção e o fortalecimento de uma cultura de segurança sólida são processos complexos e dinâmicos, que envolvem mudanças profundas no comportamento organizacional, alinhamento estratégico e o comprometimento real de todos os colaboradores.
Antes de qualquer ação, é imprescindível realizar um diagnóstico preciso para identificar o estágio atual da cultura de segurança da organização. Esse diagnóstico pode ser feito por meio de entrevistas com colaboradores de diferentes níveis, observações em campo, aplicação de questionários específicos que avaliem percepções e atitudes em relação à segurança, além da análise criteriosa dos registros de incidentes, quase acidentes e não conformidades.
A partir dessa base de conhecimento, é possível planejar ações integradas e direcionadas para desenvolver e fortalecer a cultura, garantindo que ela esteja alinhada aos objetivos estratégicos do negócio e à realidade operacional. A seguir, detalhamos dez passos fundamentais que sustentam essa jornada:
1. Obtenha o compromisso da liderança
A cultura organizacional sempre começa pelo topo da pirâmide hierárquica. É essencial que os líderes da empresa compreendam que segurança não é um custo ou uma obrigação meramente regulatória, mas um valor estratégico que impacta diretamente na sustentabilidade do negócio, no bem-estar dos colaboradores e na reputação da organização.
O compromisso da liderança deve ser visível e consistente, traduzindo-se em atitudes práticas que sirvam de exemplo para todos. Isso inclui participar ativamente de programas de segurança, alocar recursos necessários, tomar decisões que priorizem a segurança mesmo diante de pressões por produtividade e estabelecer metas claras de segurança. Líderes que demonstram transparência e responsabilidade fortalecem a confiança dos colaboradores, o que é um alicerce para a cultura de segurança.
2. Envolva todos os colaboradores
A cultura de segurança deve permear todas as áreas, níveis e funções. Envolver todos os colaboradores significa criar canais e oportunidades reais para que eles participem ativamente da gestão da segurança. Isso pode ser feito através de grupos de discussão, comitês de segurança, fóruns de feedback e até ferramentas digitais que facilitem o reporte de riscos e sugestões.
Essa participação ativa valoriza o conhecimento tácito da linha de frente, aqueles que lidam diretamente com os riscos no dia a dia, e contribui para um ambiente de trabalho colaborativo. Quando os colaboradores percebem que suas vozes são ouvidas e suas contribuições valorizadas, aumenta o engajamento, o senso de responsabilidade e o comportamento proativo em relação à segurança.
3. Eduque continuamente
A educação em segurança deve ultrapassar o formato tradicional de treinamentos pontuais e focar no desenvolvimento contínuo das competências técnicas e comportamentais. Além de conhecer normas e procedimentos, os colaboradores precisam ser capacitados para desenvolver a percepção situacional, a identificação de riscos ocultos, a capacidade de tomada de decisão rápida e segura e a responsabilidade individual e coletiva.
Investir em metodologias diversificadas, como workshops, simulações, dinâmicas e e-learning, ajuda a manter o conteúdo atualizado, relevante e absorvível. Também é importante personalizar o treinamento para as especificidades dos diferentes cargos e setores, considerando os riscos específicos de cada função e o nível de maturidade da equipe.
4. Comunique de forma estratégica
A comunicação eficaz é um dos pilares para fixar a cultura de segurança. Não basta apenas divulgar normas ou procedimentos; é necessário transmitir mensagens que inspirem, sensibilizem e gerem mudança comportamental. Para isso, a organização deve usar uma variedade de canais, desde reuniões presenciais, newsletters, vídeos, painéis visuais até campanhas internas e ferramentas digitais.
A comunicação deve ser clara, simples e frequente, reforçando os valores de segurança em linguagem acessível e conectada à realidade do colaborador. Deve-se destacar histórias reais, exemplos de boas práticas e aprendizados de incidentes, tornando o tema mais tangível e relevante.
5. Reconheça comportamentos seguros
Para que comportamentos positivos sejam internalizados e disseminados, é fundamental que sejam reconhecidos e valorizados publicamente. O reconhecimento pode ser formal, por meio de premiações, certificados e programas de incentivos, ou informal, como elogios e agradecimentos durante reuniões.
O reconhecimento cria um ciclo virtuoso que estimula a repetição dos comportamentos desejados, fortalece a autoestima dos colaboradores e promove um clima organizacional positivo. Ele também reforça o entendimento de que a segurança é responsabilidade de todos e que o esforço individual impacta no coletivo.
6. Aprenda com os erros
Uma cultura de segurança madura entende que os erros e incidentes são oportunidades valiosas de aprendizado e melhoria contínua. Para isso, é essencial que as investigações sejam feitas com foco na identificação das causas raízes, sem buscar culpados, o que evita o medo e a ocultação de problemas.
Essa abordagem preventiva deve incluir a análise sistêmica dos processos, condições de trabalho, treinamentos, equipamentos e fatores humanos envolvidos. Ao compartilhar os aprendizados de forma transparente, a organização fortalece a confiança, amplia o conhecimento coletivo e previne a reincidência de falhas.
7. Estabeleça indicadores de cultura
Medir a cultura de segurança vai muito além dos indicadores tradicionais como número de acidentes ou afastamentos. É preciso desenvolver métricas que reflitam o comportamento, o clima de segurança e o nível de engajamento dos colaboradores.
Esses indicadores podem incluir pesquisas de clima específicas, taxas de reporte voluntário de riscos, participação em treinamentos, observações comportamentais e análises qualitativas. O monitoramento contínuo permite ajustar estratégias, identificar pontos críticos e evidenciar progressos na jornada cultural.
8. Aplique avaliações periódicas de maturidade
Ferramentas estruturadas de avaliação, como a Curva de Bradley ou o modelo Hearts and Minds, são recursos poderosos para mapear o estágio de maturidade da cultura de segurança da organização. Essas avaliações periódicas fornecem um diagnóstico detalhado sobre comportamentos, atitudes, práticas e percepções.
Com esses dados, a organização pode planejar ações mais assertivas, estabelecer metas realistas e monitorar a evolução da cultura ao longo do tempo, garantindo que as melhorias sejam sustentáveis.
9. Crie espaços de escuta e feedback
A escuta ativa dos colaboradores é essencial para captar nuances do dia a dia que muitas vezes passam despercebidas em relatórios formais. Espaços para o diálogo aberto e o feedback constante ajudam a identificar riscos emergentes, falhas de processos e oportunidades de melhoria.
Esses espaços podem ser reuniões regulares, caixas de sugestões, grupos de trabalho e plataformas digitais. O importante é garantir que as opiniões sejam valorizadas, analisadas e que os colaboradores vejam resultados concretos das suas contribuições, o que fortalece a confiança e o engajamento.
10. Adote um plano contínuo de evolução
A cultura de segurança não é um destino, mas uma jornada contínua. Mudanças no ambiente operacional, evolução tecnológica, novos desafios e aprendizados exigem que a cultura seja constantemente alimentada, revisitada e adaptada.
Por isso, o plano de cultura de segurança deve ser dinâmico, com ciclos regulares de avaliação, inovação e reforço. Isso inclui incorporar novas tecnologias, melhores práticas globais, capacitação constante e o alinhamento permanente com os valores organizacionais e a estratégia de negócio.
Se precisar de ajuda para implementar ou fortalecer a cultura de segurança na sua empresa, entre em contato com a gente: https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5512930855573

MARCELO DE ELIAS é Linkedin Top Voice. Mestre em inovação e design com MBAs em Estratégia (USP), Gestão de Pessoas (FGV), formação internacional em gestão da mudança em tempos desafiadores (University of Tampa/EUA) e pós-graduado em neurociência e psicologia positiva (PUC).
Conteudista especialista em liderança, protagonismo e gestão de mudanças, é professor da FGV, FDC e outras escolas de negócios. Escritor e fundador da Universidade da Mudança.
Pioneiro no assunto “Inner Skills” no Brasil.
Atende grandes clientes como GPA/ Pão de Açúcar, Cobasi, Neoenergia, Leroy Merlin, SBT, Marisa, Carrefour, MSD/Merck, Elanco, Kawasaki, GM, Fiat, Raízen/Shell, DHL, Caixa, Bradesco, Unilever, Bettanin/InBetta, Sebrae, SESC, Sabesp, Banco da Amazônia, Justiça Federal, Ministério Público, INPE, Usiminas entre outros de diversos segmentos.
Através de mensurações na metodologia NPS junto aos contratantes, o índice de recomendação é de 100%.
As palestras não são “produtos de prateleira”, mas sim, projetos 100% personalizados e customizados para cada realidade, considerando as necessidades a serem atendidas, a cultura do cliente e o perfil do público.
Quer saber mais sobre MARCELO DE ELIAS e como ele pode ajudar a sua empresa nos desafios relacionados às mudanças, inovações, liderança e protagonismo pessoal, clique aqui: http://marcelodeelias.com.br/
Se quiser saber mais sobre o que fazemos, conheça nosso media-kit: https://marcelodeelias.com.br/portfolio/
Se desejar um orçamento sem compromisso ou entender mais sobre nossos trabalhos e em que podemos ajudar sua organização, entre em contato com nossa equipe por WhatsApp aqui: https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5512930855573
ASSINE NOSSA NEWSLETTER DO LINKEDIN: CLIQUE AQUI